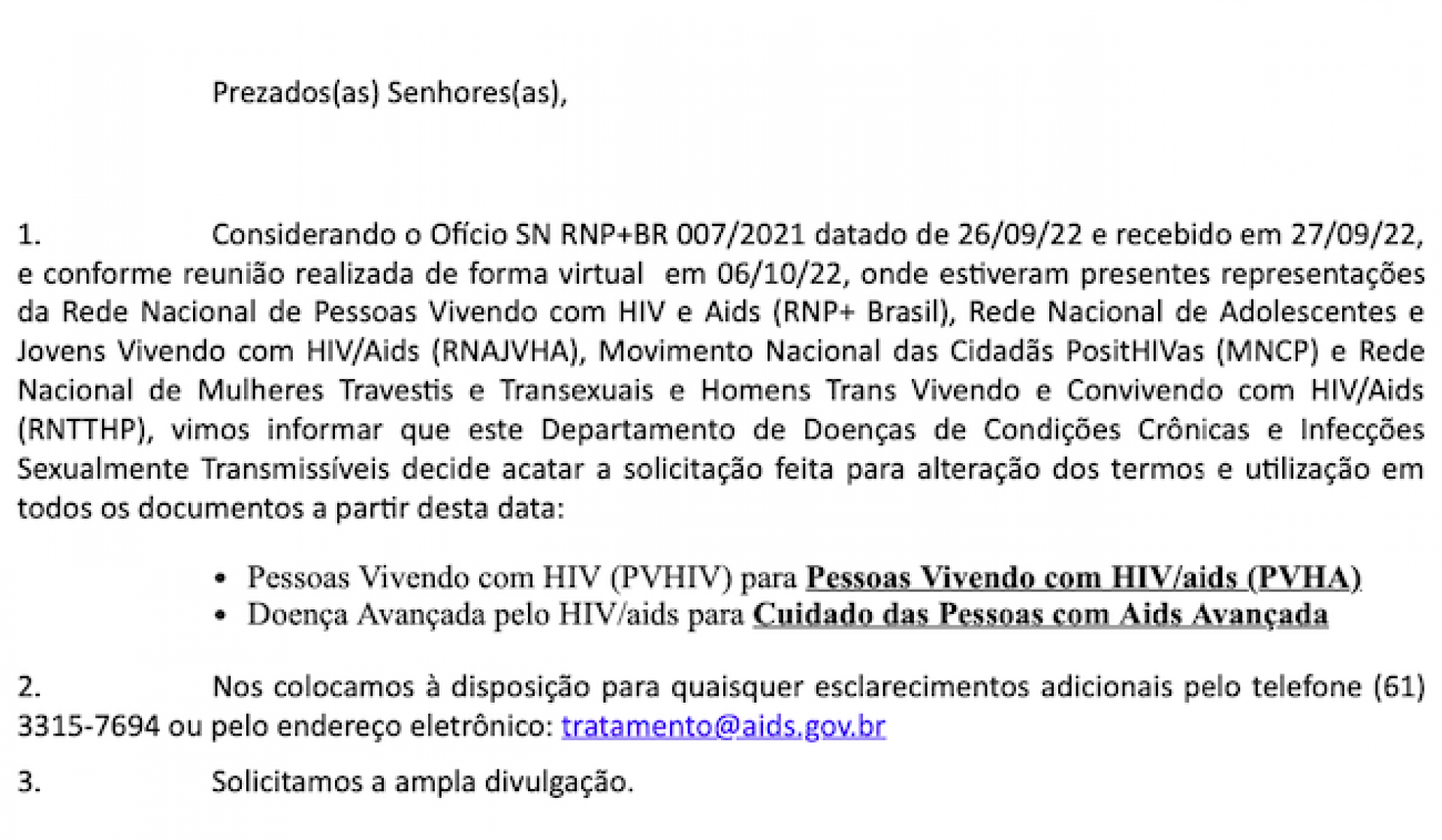Background photo created by freepik - www.freepik.com
Por Ronaldo Hallal
O surgimento da COVID-19 instalou uma atmosfera de pânico e desestabilização social na Europa e nas Américas. A transmissão por via respiratória e proximidade social, aliada à ausência de imunidade da população – embora ainda pouco se saiba sobre uma possível imunidade cruzada a outros coronavírus –, potencializou a rápida disseminação entre os continentes, determinando sua conformação pandêmica.
Diversos elementos moldaram o imaginário social, a produção do conhecimento científico e as estratégias de enfrentamento da pandemia. De certa forma, a “atmosfera pandêmica” remete ao início da década de 1980, no surgimento da epidemia de Aids. Notícias de uma doença nova, ainda sem vacina ou tratamento eficaz, a rápida perda de vidas, o pânico e o estigma social poderiam tanto descrever os anos 80 do século 20 quanto o início de 2020, numa espécie de retorno àquela época de descoberta de um novo vírus, uma nova doença, sem imunidade prévia.
Reflexo do desequilíbrio social e ambiental, análises filogenéticas mostram a origem do HIV no Vírus da Imunodeficiência Símia (SIV), assim como o SARS-COV-2 é uma recombinação envolvendo coronavírus humano e de morcegos. Ambos são produzidos pela interferência humana no meio ambiente e sua propagação se dá pelo desequilíbrio social e pela globalização, ainda que esses fatores sejam hoje mais intensos do que nos anos 1980.
A análise epidemiológica realizada à época mostrou que a Aids ocorria mais frequentemente em algumas populações específicas, conforme a abordagem do campo da epidemiologia, denominados grupos de risco. A influência da análise epidemiológica foi tamanha que a nova doença chegou a ser denominada a partir da dimensão dos grupos com maior probabilidade de desenvolver a “Doença dos cinco H”, iniciais dos grupos associados ao risco: haitianos, homossexuais, hemofílicos, usuários de heroína e profissionais do sexo (hookers, em inglês).
Outras denominações que marcaram passado e futuro do olhar social sobre a doença foram “Peste Gay” e “Câncer Gay”. O filme “E a vida continua”, retrata a investigação epidemiológica, particularmente da aplicação do conceito de risco, com seus nexos epidemiológicos, que definiram os grupos mais afetados. Ao mesmo tempo demonstrou as formas de transmissão, produzindo efeito nas populações sob maior risco da doença, naquela ocasião, ainda com poucos recursos diagnósticos e terapia apenas de caráter paliativo.
Desde o início de 2020, divulga-se que idosos e portadores de comorbidades (curiosamente a infecção pelo HIV parece ser exceção) caracterizam os “grupos de risco” para a COVID-19. Tanto no começo da década de 1980 quanto no início de 2020 a perspectiva da vulnerabilidade social não teve a mesma a força que o conceito epidemiológico de “grupos de risco”.
No caso da Aids, as dimensões da vulnerabilidade foram compreendidas ao longo do tempo, qualificando a análise a respeito da epidemia. Atualmente, as diferenças em relação a prevalência, mortalidade e acesso a profilaxia e terapia antirretroviral, são marcantes as diferenças entre África e Europa, população branca e população negra, pessoas com pouco tempo de estudo formal e aquelas com graduação, moradores de favelas e de bairros privilegiados. Nos EUA, a população negra e particularmente as mulheres negras têm menor acesso a tratamento e maior mortalidade do que as mulheres brancas, a exemplo do que ocorre com a COVID-19.
A COVID-19 chega no hemisfério sul trazida por pessoas vindas da China e da Europa, especialmente brasileiros das camadas sociais mais favorecidas. A mídia de massa e médicos chegaram a dizer que a COVID-19 seria uma “epidemia democrática”, que todos são vulneráveis e que a doença não pouparia classes sociais. Tais afirmações revelam a visão centrada na biologia, retirando da análise os determinantes sociais da transmissão, adoecimento e morte pela COVID-19. Abordei este assunto em um artigo curto denominado “COVID-19: uma epidemia que não é democrática em um mundo desigual”, publicado respectivamente no Zero Hora e Sul21, de grande circulação no RS. Como se pode facilmente observar, desde então a epidemia se distribuiu desigualmente na sociedade, afetando com mais força os aglomerados urbanos e as populações que não podem praticar o isolamento.
No caso da Aids, boa parte da sociedade e (o mais grave) gestores e agentes públicos de saúde adotaram o discurso de que “todos somos vulneráveis” à transmissão do HIV, como se a vulnerabilidade fosse semelhante em pessoas e grupos sociais distintos. Dizia-se até mesmo que a epidemia de Aids seria “democrática”. Sobretudo Aids, Tuberculose, Câncer de Colo de Útero e COVID-19 não são “democráticas”: esses agravos expõem mais intensamente a desigualdade social e o quanto o mundo é desigual. Afetam desigualmente os grupos sociais, e suas consequências e seu impacto são impulsionados pelas barreiras no acesso a recursos, incluindo informação, comunicação, educação, prevenção, noções de risco e acesso a serviços de saúde. Portanto, são impulsionados pela desigualdade social.
A banalização por parte de governos que na verdade refletem atraso civilizatório é comum a ambas as epidemias. Em 2014, o Ministério da Saúde chegou a afirmar que a noção de direitos humanos seria uma barreira no combate à epidemia de Aids e que viver com HIV seria semelhante a conviver com doenças crônicas tais como diabetes, ignorando o evidente estigma e a exclusão social, muitas vezes vivenciada no próprio convívio familiar e invariavelmente no mercado de trabalho. Já em 2020, a COVID-19 foi comparada a um “resfriadinho” ou uma “gripezinha”, pelo presidente do Brasil, banalizando o impacto social e sanitário da pandemia.
O discurso de negação da ciência veio cedo e misturado ao ataque à laicidade do Estado. Primeiro com a adoção da abstinência sexual como estratégia de prevenção da gravidez na adolescência e da transmissão de ITS e HIV e com a recusa em adotar os direitos sexuais e reprodutivos como diretriz. Não importa que as evidências sejam claras; sempre haverá algum estudo mal delineado e mal conduzido que será evocado como justificativa, que seja da abstinência ou da cloroquina. Na COVID-19, o negacionismo se afirmou com a sabotagem ao isolamento social e a promoção de tratamentos, mesmo que estes tenham evidências de ineficácia. Mas sempre haverá um estudo retrospectivo que encontrará alguma associação que reforce tal discurso.
A evidência não importa mais. Foi preciso construir a senha para unificar e mobilizar o rebanho na direção da aglomeração e da cloroquina. A ivermectina é coadjuvante, mas ajudou a gerar a cortina de fumaça. Lá atrás, grupos minoritários liderados pelo virologista alemão Peter Duesberg propuseram que o HIV não ocasionava Aids e que os antirretrovirais estavam implicados na causa da doença, assim como o desequilíbrio imposto pela modernidade. Neste último aspecto ele tinha suas razões.
Os direitos sociais foram recentemente subtraídos de pessoas com HIV. A partir do discurso de que é apenas uma doença crônica, afinal já pode ser comparada ao diabetes, mesmo aqueles com evidentes sequelas motoras ou neurocognitivas estão sendo considerados “aptos” para disputar o mercado de trabalho. Em 2020, foi preciso pressão para a aprovação de uma renda mínima temporária, e posteriormente foram impostas barreiras para acesso justamente às populações mais excluídas do mercado de trabalho. Somente cerca de 30% dos recursos destinados para COVID-19 são efetivamente investidos. Ao longo do tempo, Aids e COVID-19 tornam-se invisíveis e negligenciadas.
Na COVID-19, os mais idosos e os doentes mais graves têm a mais baixa prioridade de acesso a respiradores. Profissionais de saúde e pessoas com diagnóstico de COVID-19 sofrem violência moral e física e são reduzidos a “disseminadores” da doença, lembrando a forma como muitas vezes as pessoas que vivem com HIV são tratadas ao revelar seu diagnóstico.
Somente cerca de uma década após o surgimento da Aids foi desenvolvida uma estratégia terapêutica eficaz. Ao longo de quase 10 anos conviveu-se com medidas terapêuticas insuficientes para conter o avanço da doença, e alguns tratamentos carentes de eficácia foram utilizados, entre eles a aplicação de dinitroclorobenzeno (DNCB) e canova, lembrando o “caso da cloroquina”.
“Os doentes representam um peso para a sociedade”. “E daí, o que eu tenho a ver com isso?”. A desumanidade e o desprezo pelas pessoas afetadas pela epidemia que surgiu na década de 1980 repetem-se em 2020. As afirmações poderiam ser invertidas: pessoas em risco ou mesmo infectadas pela COVID-19 são consideradas um “peso para a sociedade” e, quanto à epidemia de Aids, o vazio de empatia poderia dizer: “e daí, o que eu tenho a ver com isso?”. A mesma pobreza de espírito, a mesma crueldade, a mesma falta de civilidade. A naturalização da morte e o darwinismo social verbalizado.
O fato é que a COVID-19 chegou em tempos obscuros. O Estado menospreza a vida e dá preferência a crenças infundadas em detrimento da ciência. Afinal, no pensamento fundamentalista, é como se a ciência estivesse em poder de cientistas de mais e religiosos de menos. Naturalizam-se quase cem mil mortes. A vida de brasileiros idosos, portadores de doenças, pardos, pretos, pobres, trabalhadores e biscateiros em sua maioria, vale menos do que a vida de italianos ou nova-iorquinos. Imaginemos que houvesse um equívoco do tempo: como seria para usuários de drogas injetáveis, prostitutas, gays, transexuais, ainda mais se fossem pobres e pretos, caso se deparassem com a “Peste Gay” em pleno 2020?
 “Hallal et al”, por Ronaldo Hallal
“Hallal et al”, por Ronaldo Hallal
Ronaldo Hallal é médico, infectologista e consultor da Sociedade Riograndense de Infectologia.
Compartilhe nas redes sociais:

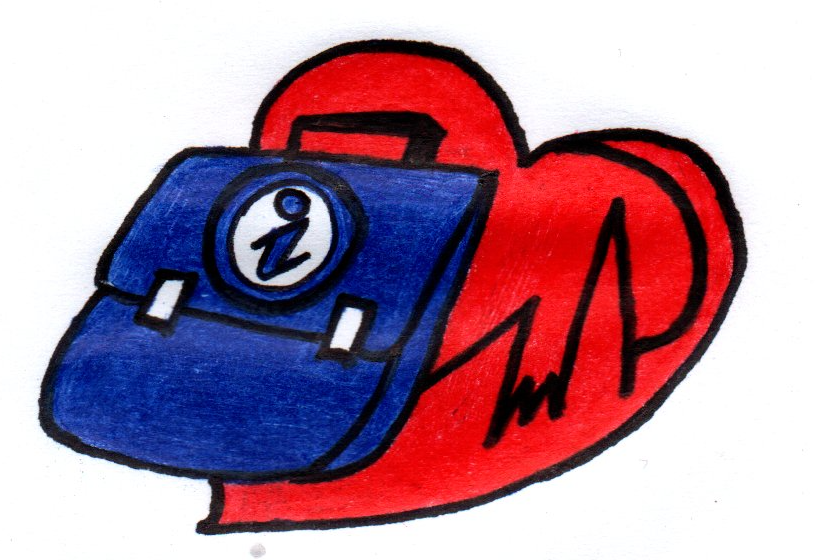 Uma passagem através do tempo: COVID-19 e as lições não aprendidas da epidemia de Aids
Uma passagem através do tempo: COVID-19 e as lições não aprendidas da epidemia de Aids